
Porque nos metemos dentro de caixas (que nunca foram nossas)
Vivemos encaixotados. Arrumadinhos. Um rótulo para cada pessoa, uma prateleira para cada existência. E se sobrares – se fores daqueles que não encaixam em lado nenhum – não és visto como livre. És visto como problema.
“Sou fora da caixa”, dizem alguns, convencidos de que quebraram o molde. Mas até a “não conformidade” virou tendência. Virou caixa nova com papel de embrulho alternativo. Tatuagens e ideias disruptivas, mas sempre com um lugar reservado numa rede social, sempre em função do olhar do outro, sempre a desempenhar um papel.
A verdade crua, despida de romantismos: até os que dizem que não vivem em caixas vivem… dentro de caixas. Só que com autocolantes diferentes. “Empreendedor”. “Rebelde”. “Espiritual”. “Minimalista”. “Feminista”. “Workaholic”. Escolhe a tua. A sociedade providencia. Com brinde incluído: pertença.
Porque é que fazemos isto? Porque é que nos encaixamos onde não pertencemos?
Desde cedo somos ensinados a caber. A ser bons. A obedecer. A agradar. Aprendemos que o amor, esse bem escasso e condicional, depende da nossa capacidade de adaptação. “Senta-te direita.” “Fala baixo.” “Sorri.” “Diz obrigada.” E nós, crianças pequenas com corações famintos, aprendemos o truque: ser o que esperam de nós.
É assim que começa: com a necessidade de aceitação. Não nascemos a querer ser normais – nascemos a querer ser amados. Mas depressa percebemos que, para sermos amados, temos de ser normais. Encaixar. Ceder. Fingir. E assim nos vamos moldando, cortando partes de nós que não se ajustam, como se fossemos blocos de madeira a tentar entrar em formas de plástico.
A certa altura, já nem sabemos onde acaba o fingimento e começa o “eu”. E é aí que entramos nas caixas que não são nossas. Porque achamos que são. Porque já não sabemos o que seria viver fora delas.
Há caixas herdadas. Caixas impostas. E caixas que construímos com as nossas próprias mãos.
As herdadas vêm da família. A filha responsável. O irmão que dá conta do recado. A cuidadora. O bem comportado. O invisível. Papéis passados de geração em geração como heranças sem testamento.
As impostas são as sociais. Mulher? Então sê delicada. Homem? Não chores. Negro? Sê grato. Gorda? Sê simpática. Deficiente? Sê inspiradora. Imigrante? Sê discreta. Há uma coreografia invisível para cada identidade, um guião silencioso escrito a muitas mãos.
E depois, há as caixas que construímos. Para nos proteger. Para fazer sentido do mundo. Para controlar o medo. “Sou perfeccionista.” “Sou muito racional.” “Sou sempre a forte.” Estas caixas não parecem jaulas. Parecem fortalezas. Até que nos começamos a asfixiar lá dentro.
Viver em sociedade é viver com máscaras. Mas quando a máscara cola à pele, já não a conseguimos arrancar sem arrancar pele também.
Somos animais sociais. Precisamos uns dos outros. Mas confundimos pertença com assimilação. E isso destrói-nos. A sociedade não nos quer inteiros – quer-nos funcionais. Produtivos. Previsíveis. Legíveis.
Por isso, até a rebeldia é absorvida e domesticada. O mercado faz camisolas com frases de resistência. As redes sociais transformam o trauma em conteúdo. A dor em algoritmo. E nós aplaudimos, porque parece autenticidade, parece coragem. Mas é só mais uma performance. Só mais uma caixa. Transparente, mas caixa.
O pior de tudo? Estas caixas confortam-nos.
O sofrimento conhecido é preferível ao desconhecido. O papel que já sabemos desempenhar é mais seguro do que a liberdade de ser. As caixas dão-nos fronteiras. A ilusão de identidade. De controlo. De segurança.
Sair da caixa, a sério, é perder chão. É entrar no território ambíguo onde não há mapas. É arriscar o não pertencimento. É dizer “não sei quem sou” e ficar aí, no vazio, sem pressa de preencher. E quem aguenta isso?
Mas há quem aguente. Há quem precise. Há quem já não caiba, por mais que tente.
Chega um dia em que a caixa aperta demais. Em que o corpo grita, o sono foge, a tristeza instala-se. Em que o papel já não serve. Em que fingir se torna insuportável. E é aí que, às vezes, a psicoterapia entra.
Não para oferecer outra caixa. Mas para acompanhar o processo de desembrulho. De escavação. De encontro. Para ajudar a distinguir o que é nosso do que nos foi colado. Para abrir espaço ao desconhecido dentro de nós.
A vida fora da caixa não é confortável. Mas é viva. Inconstante, sim. Insegura, sim. Mas é nossa. E é só aí, nesse espaço sem paredes, que começa a verdadeira liberdade.
E não, não é para todos. Mas talvez seja para ti. Se já não suportas o papel. Se a caixa já não abriga – só sufoca. Se já não te consegues ver ao espelho sem pensar: “quem é esta pessoa que aprendi a ser?”
Então talvez seja tempo. De abrir a tampa. E respirar.
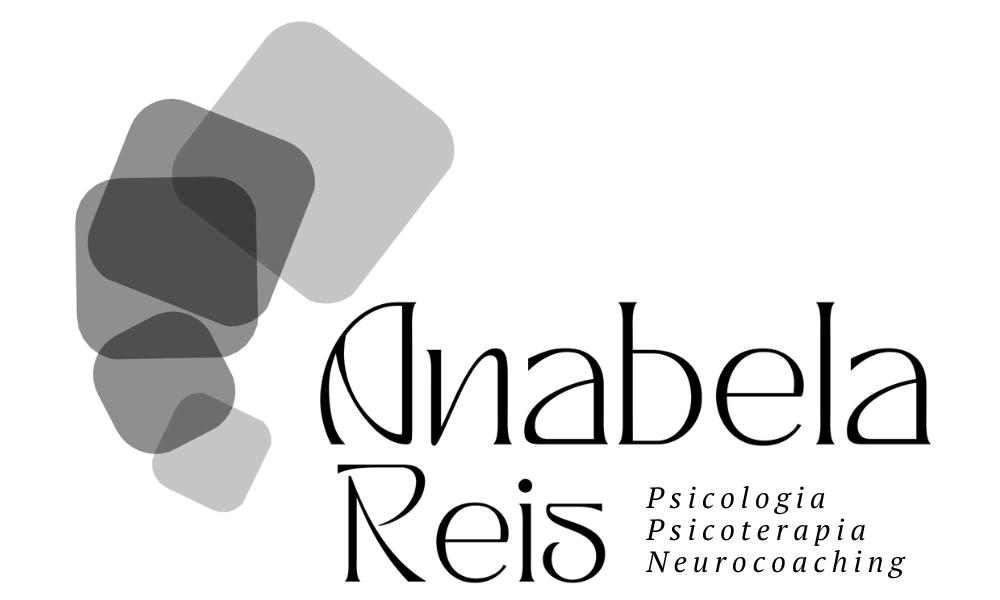



Deixe um comentário